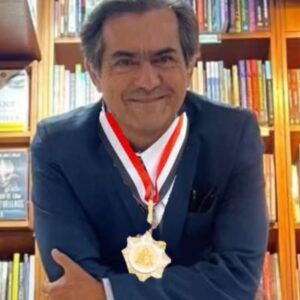Para onde está indo a família?
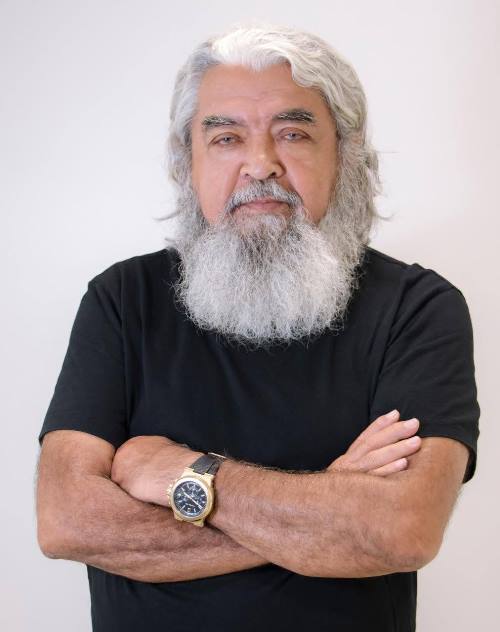
RUY PALHANO
Psiquiatra, membro da Academia Maranhense de Medicina e Doutor Honoris Causa – Ciências da Saúde – EBWU (Flórida EUA).
A modernidade, com sua velocidade e com a promessa permanente de atualização, corroeu silenciosamente a tessitura mais íntima da vida social: a família. O que antes funcionava como um núcleo de pertença, transmissão simbólica e cuidado intergeracional converteu-se, cada vez mais, em estrutura frágil, pressionada por agendas impossíveis, trabalho precarizado, hiperconexão e entretenimento ininterrupto. O resultado é um esvaziamento dos vínculos domésticos que, longe de ser mero “costume que passou”, tem implicações diretas na saúde mental: solidão, ansiedade difusa, depressividade funcional, desatenção crônica, inseguranças patológicas e uma sensação de desenraizamento que atravessa crianças, adolescentes e adultos.
A demolição das tradições familiares — rituais de mesa, orações compartilhadas, pequenas liturgias do cotidiano como o “boa-noite”, o acompanhamento do dever de casa, as festas de aniversário feitas em casa — não é apenas perda estética; é perda de dispositivos psíquicos de sustentação. Rituais estabilizam o tempo interno, marcam a passagem das fases da vida, oferecem reconhecimento. Quando esses marcos se dissolvem, instala-se um presente contínuo e fatigante, sem contornos. Pais e filhos passam a coexistir em ilhas emocionais: estão fisicamente próximos, mas mentalmente apartados, cada qual imerso em sua tela, em seu fone, em seus afazeres, ocupações e em seu próprio algoritmo.
No plano da parentalidade, a falta de tempo não é só um dado logístico; é um indicador de reorganização de prioridades orientadas pelo produtivismo. Trabalha-se até a exaustão para “garantir o futuro das crianças”, enquanto o que garantiria esse futuro de modo estruturante — presença, conversa, supervisão afetiva, frustrações manejadas — vai sendo terceirizado a dispositivos e plataformas. A “tecnoferência” — a interferência constante dos aparelhos nas interações — reduz o olho-no-olho, empobrece o registro de nuances emocionais, sabota a aprendizagem da espera. Sem esperar, não se deseja; sem desejar, a vida psíquica empalidece.
No desenvolvimento infantil, a presença suficientemente boa dos cuidadores é a matriz da segurança interna. Quando o cuidado é esporádico, distraído ou ansioso, a criança internaliza um mundo imprevisível. Cresce então um sujeito que oscila entre hipercontrole e desistência, entre explosões e apatia. A escola passa a absorver conflitos que não são pedagógicos, mas vinculares. Professores se veem convocados a exercer funções de continência emocional para as quais não foram formados, reproduzindo em sala de aula o vácuo de sustentação que se instalou em casa.
A adolescência, por sua vez, que sempre exigiu pactos de confiança e limites claros, encontra-se hoje sem mapas. A autoridade dos pais foi relativizada não por diálogo maduro, mas por uma avalanche informacional que produz “pseudopares”: youtubers, influenciadores, tribos digitais que oferecem pertencimento instantâneo a troco de exposição total. Sem autoridade simbólica legítima, a família oscila entre permissividade culpada e autoritarismo reativo — dois extremos que adoecem.
O adolescente, que precisava de bordas para aprender a liberdade, encontra nebulosidade; e sem bordas, a liberdade vira vertigem. As tradições não eram prisões arbitrárias; eram gramáticas de convivência. Ao desmontá-las sem substitutos, a modernidade criou um vazio normativo no qual cada um improvisa como pode. O jantar em família virou logística de entrega; o domingo, agenda de tela; as férias, produção de conteúdo; as conversas, notificações. O silêncio — esse intervalo fértil onde se elaboram experiências — foi patologizado como tédio. Onde não há silêncio, não há escuta; onde não há escuta, não há reconhecimento; e sem reconhecimento, o sujeito adoece.
Do ponto de vista psicopatológico, multiplicam-se quadros mistos: ansiedade com traços depressivos, dependência digital enlaçada a fobias sociais, transtornos do sono, irritabilidade basal. Em muitos lares, há uma guerra fria de micropressões: olhares de reprovação, ironias, respostas monossilábicas, portas que batem, fones que isolam. Não há explosões, mas há erosão. A erosão é lenta, quase indolor; quando se percebe, a casa está de pé por fora e implodida por dentro.
O trabalho — elevado a eixo identitário único — sequestra o tempo parental e infantil. Crianças tornam-se gestoras de agendas sobrecarregadas (inglês, esportes, telas), enquanto os pais, exauridos, oferecem “tempo prêmio” em vez de “tempo real”: viagens compensatórias, presentes caros, permissões amplas. O vínculo, porém, não se alimenta de compensação; alimenta-se de repetição. Repetir é estar, é insistir na presença, é narrar de novo a história da família, inclusive as feridas e reconciliações.
A tecnologia não é a vilã em si; o problema é o lugar que lhe foi cedido. Ela deixou de ser ferramenta para tornar-se ambiente. Quando a casa é atravessada por um ambiente cujo algoritmo capitaliza atenção, o íntimo perde soberania. A conversa concorre com a métrica; o afeto disputa com a notificação; a brincadeira improvisada perde para o vídeo perfeito. Resultado: a vida comum parece sempre pálida diante do espetáculo luminoso do feed — e a realidade cotidiana vira uma decepção crônica.
Há, ainda, um deslocamento semântico perigoso: confunde-se liberdade com descompromisso. Em nome de “não traumatizar”, evita-se dizer não; por medo de “repetir o passado”, abandona-se a transmissão de valores; sob o pretexto de “respeitar o tempo do filho”, terceiriza-se o conflito necessário para o amadurecimento. O efeito colateral é um infantilismo prolongado: sujeitos adultos com baixa tolerância à frustração, vínculos utilitaristas e consumo afetivo descartável.
A demolição das tradições familiares também atinge a memória. Sem narrativas de origem, sem fotos comentadas, sem histórias de avós repetidas até a exaustão, os mais novos perdem o fio que os insere numa continuidade. A consequência é a sensação de começar do zero o tempo todo. Começar do zero pode soar liberador, mas é psicologicamente extenuante: ninguém sustenta o novo indefinidamente sem raízes. A tradição é a raiz que permite ousar sem se desfazer.
No plano comunitário, a fragilização da família reverbera em redes de apoio rarefeitas. Vizinhanças já não funcionam como extensões solidárias, igrejas e associações perderam capilaridade, e o Estado, quando aparece, surge de forma burocrática, tardia e insuficiente. A clínica e a escola tornam-se pontos de contenção de sofrimentos que deveriam ser, primeiro, trabalhados no seio da casa. O consultório, então, acolhe não apenas indivíduos, mas a queda de uma ecologia inteira do cuidado.
Entretanto, não há determinismo. Famílias podem reerguer suas arquiteturas simbólicas sem nostalgia ingênua e sem tecnofobia. Trata-se de recolocar a presença no centro: instituir o “horário sagrado da mesa”, livre de telas; reativar o conselho doméstico para decisões e conflitos; restaurar rituais mínimos (um café juntos, uma leitura compartilhada, um passeio sem registro); combinar regras claras de uso de dispositivos, inclusive para os adultos; e, sobretudo, recuperar a palavra como lugar de encontro e não de acusação.
Por fim, cuidar da saúde mental, nesse contexto, é recuperar o sentido do “lar” como lugar onde o tempo desacelera, o corpo relaxa, o olhar encontra, a tradição inspira e não aprisiona. É aceitar que educar dá trabalho, que amar exige repetição, que limites são expressões de cuidado, que o passado pode ser legado e não algema. A modernidade desmontou muito do que nos sustentava; cabe a nós construir, com lucidez e coragem, uma modernidade habitável dentro de casa — onde pais e filhos possam, enfim, voltar a se reconhecer.
O conteúdo deste blog é livre e seus editores não têm ressalvas na reprodução do conteúdo em outros canais, desde que dados os devidos créditos.